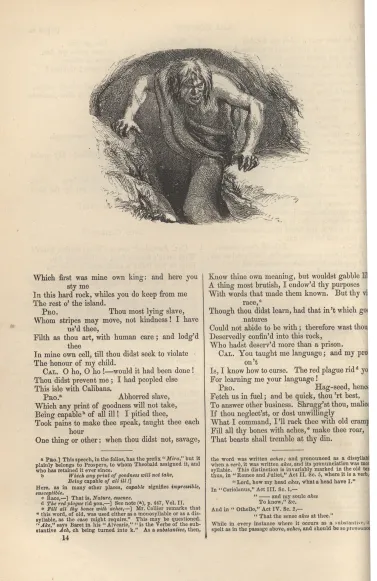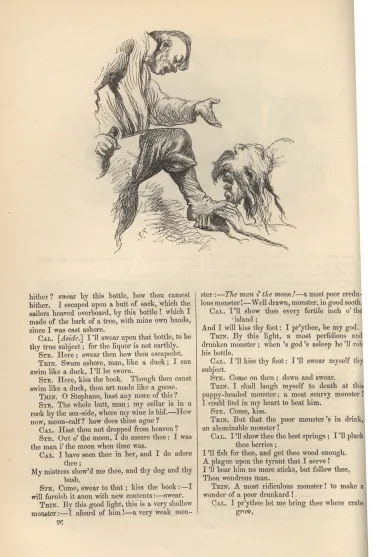
Sujeito muito memorável mesmo aquele tal de Zé de Pina. Aquela pele cor de jabuticaba, a enorme barriga que saía de sua camisa de algodão sempre aberta, o usual facão na cintura e o farto bigode na cara. Lembro-me dele e de seus amigos trocando miudezas todos os fins de tarde em sua taboca. Eram muitas as alpercatas que pisavam aquela terra, mas algumas eram constantes. Sempre apareciam por lá Seu Evangelista, idoso que tinha uma terrinha e alguns cabritos, chegou a cair para o sul uma época, mas lá não encontrou parança; havia também um certo Miguel de Gameleira, galego do cabelo cor de ciriguela, camarada já maduro, talvez fosse um pouco mais velho que Cigano, homem musculoso que vivia de pequenos bicos. Cigano era surdo e usava a oralidade do gesto para se fazer entender pelos demais – com certeza suas mãos reproduziam o mesmo sotaque de seus companheiros. A estes vinha se somar Jailton, o vaqueiro, sempre vestindo o gibão completo – com casaca, manoplas, guarda-peito e perneiras.
Eram todos eles malungos uns dos outros. E nós, seus filhos e netos, reproduzíamos aquela amizade, ouvindo aquelas sagas de Jagunços, Cangaceiros, Coronéis e Guerrilheiros do exército de Conselheiro (salve, salve Pajeú e João Abade!). Ouvindo também as estórias de touros terríveis que somente Jailton conseguia tarrafear ou brigas homéricas envolvendo as lâminas de Cigano ou do longevo Evangelista. Nós, os bacorinhos e eles, os mais-velhos, todos aquilombados no mesmo solo sáfaro.
Só tardã, muitos anos depois, já cursando minha graduação em história, é que percebi a maravilha daquelas tardes naquela taboca. Atinei que aqueles sujeitos falavam um idioma cheio de português arcaico, termos vindos de línguas africanas e indígenas: a mesma língua com a qual escrevo. Reparei também que Miguel de Gameleira, provavelmente, era um remanescente de um outro sertão, o sertão da Judéia, pois foi com nomes de árvores que alguns retirantes de Judá camuflaram sua fé. Do mesmo modo, Cigano era realmente um descendente de algum romani que se desgarrou naquele sol; e Jailton, o vaqueiro, ecoava um canto meio arabesco toda vez que aboiava. Era gente muito distinta entre si, apesar de, à primeira vista, serem todos iguais. Independentemente de qualquer coisa, qualquer diferença ou discussão, eram todos malungos uns dos outros, tendo na taboca de Zé de Pina seu lugar de arenga e conciliação.
Essas coisas me voltaram à mente agora, quando pensei em escrever o primeiro texto deste site. Um manifesto: foi este meu primeiro impulso, um escrito onto-epistemológico cheio do rococó do trava-língua acadêmico, justificando o para-pós-de-anti-colonial. No fim das contas seria mera vaidade desaprumada, mero miolo de pote. Neste primeiro texto gostaria de expressar não a certeza de um manifesto, antes a rima do convite. Um convite meio acabrunhado, não minto; mas ainda assim uma incitação para uma conversa, diálogo, chegança.
Caliban é um personagem multifacetado, resultando disso a quantidade imensa de releituras que vem recebendo ao longo dos séculos. Um Caliban caboclo, autêntico proseador e conversador, um Caliban que espera seus malungos para um dedo de prosa regado a café ou cachaça; um Caliban telúrico, pois afinal o colonialismo é sempre sobre a terra, sobre a própria terra, mesmo quando falamos da expropriação de povos distantes. Como disse um certo escritor paraibano a quem muito admiro: Canudos tem a mesma cor do mundo colonial. “Anacronismo terrível!”: dirá minha compadragem historiadora. Em lugar disso, prefiro pensar que se trata de uma verdade poética, daquele tipo de verdade que inspira, a mesma inspiração que pode vir de um personagem criado por um caboclo inglês no século XVII.
Talvez soe descabido trazer as coisas da minha modernagem, esse cangaceirismo teórico. Presepeira arretada. Se assim for, rogo que perdoe o proceder deste matuto e peço perdão por aperreá-lo com essa conversa vinda do oco do mundo. Do contrário, o convite está feito: aquilombar-se conosco, ultrapassar as espinhosas imburanas, encoivarar o solo, pôr a mão no barro, amassar a taipa e construir essa palhoça – relembrar certas referências e, caso estas ainda não existam, inventá-las, como faz um escritor ao contar uma história.